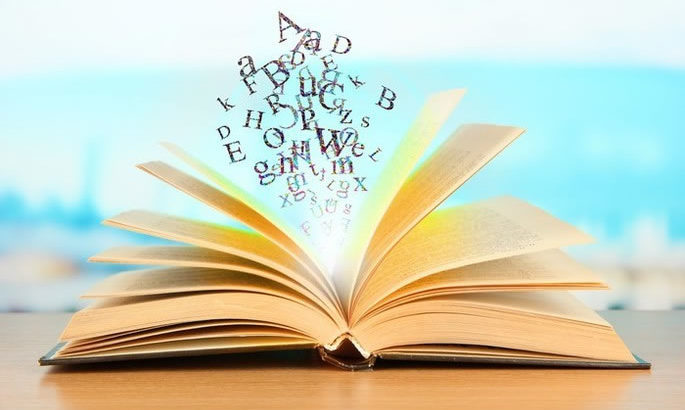Pra que tudo serve se nem tudo vale o que pesa.
E tem gente que pra cada peso tem duas medidas.
Assim era Tom Zé.
Um garoto esperto. Bom de prosa. Um tanto quanto hiperativo diga-se, an passant.
Não parava quieto nem com reza mansa. Pulava no berço balançando, com as mãozinhas fininhas, os balangandãs que eram dependurados num varal lá no alto.
Um feio dia, num descuido de sua mãezinha amada, dona Maria da Paz, quando elazinha ia colher verduras na horta de couve, num dia chuviscoso como o de hoje, Tomzezinho pulou mais que o costume. Esboroando-se ao chão duro do seu quartinho de dormir.
E que correria se deu naquela segunda feira. Dia de um jogo decisivo do time do Brasil.
O pai, prestes a começar a ordenhar as vacas mansas. Uma delas atolou até os chifres. Embora fosse mocha. No barro grudento do curral. Acabou deixando a tirança de leite pra mais tarde.
E foi acudir Tomzezinho. Que, caído no chão duro de cimento tinto a vermelhão, chorava copiosamente. Mostrando com o dedinho maior da mãozinha direita o galo enorme que se formava. E esse mesmo galo não cantava e sim piava um chorinho apetitoso como a marchinha carnavalesca “mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar”.
Desde aí não deixaram o molequinho irrequieto a sós com ele mesmo.
E o tempo passava molambento. As horas, dias, minutos, segundos, corriam céleres.
Escola não era bem o que Tomzezinho gostava de fazer. Ele cabulava aulas sem se ruborizar.
Dizia a dona Maria da Paz que a fessora de aritmética era de mal com ele. Que a de português não era flor que se cheirasse de narinas abertas. Que a de história da pátria brasileira torcia para a Coreia ganhar do Brasil. Que a outra. Uma veia peituda. A ele lançava olhares libidinosos. Engolindo-o como o sapo faz com a cobra venenosa.
Daí a sua ausência repetitiva das salas de aula. E elezinho não terminava nunquinha o curso primário do primeiro grau.
Aos menos de vinte anos por uma garota de má fama se enrabichou. Era uma rapariga até que formosa. Pernas angulosas. Nádegas que as quero pertinho de minhas mãozinhas tateadoras.
Dona de lábios carnudos e beijadores. Diziam que a mesma mocinha cobrava dez reais por cada beijo que dava. Ficando semi escondida numa tenda de uma barraca de um parque de diversão. E que elazinha. Depois de ser beijada ainda ao beijoqueiro oferecia seus préstimos na cama dura em cima de um colchão de palha mais sujo que pau de galinheiro.
Foi com ela mesma que Tom Zé ajuntou os panos.
E como ela teve duas filhas lindas e mimosas. Uma era a cara e fuça do pai. A outra não se parecia a nenhum dos dois.
Diziam, as más línguas, que a fulaninha era filha do motorista do velho caminhão leiteiro. Com quem a mulher do Tom se escondia numa moita de bambu gigante. E copulavam a cada visita do velho caminhão.
E o consórcio do pobre e infeliz Tom não durou mais que a florada dos ipês. Nem ao menos a prova do ENEM.
Quis o destino que Tom, já adulto, não adúltero, pois ele ainda permanecia fiel como um cão fila, ao seu dono. Quando a sua mulher o abandonou na casa velha da fazenda do seu pai Pedrosão. Por não apreciar a vida na roça. Ao pobre Tom só lhe restou a companhia de um velho radinho de pilhas gastas. Um velho travesseiro fedendo a mofo. Carrapatos micuins que sonhavam em se tornar estrelas graúdas. Morcegos frutíferos que de vez em quando sugavam-lhe sangue. E Tom consentia.
Até que um dia. Já fazem dois ou três meses. Eis que apareceu na tronqueira um velho doutor da cidade perto da sua. A bela e progressista Ijaci. De nome Paulo Rodarte. O qual carecia. Com certa premência. De um caseiro novo. Não lhe importava a idade. Desde que fosse enxadachim de primeira e foiceiro de segunda demão.
Foi só apertarem-se as mãos e a combinação não passou de uma anágua. Que confusão me perdoem os leitores. Não foi bem isso que gostaria de deitar no papel. Que papelão!
E o Tom, desde então, passou a ser o caseiro do doutor em questão. Que não fazia questão de quase nadica de nada. Desde que. Cuidasse de seus dois cãezinhos – Clo e Robson. Não deixasse faltar ração nem água no seu canil recém remodelado. Que aparasse o gramado quando a grama subisse a mais de meio metro. Que tratasse muito bem. Como eles merecem. De suas duas éguas- a Felicidade e da Sandrelle. Duas que disputavam a simpatia e por que não o amor de um cavalinho manso de nome Estrela. Nome dado pela esposa do médico metido a poeta. O qual ainda usa o dedo indicador da mão direita para escrutinar a saúde da próstata. Mas o não tão velho Tom deixou atestado o seguinte dito no contrato assinado com sua digital no papel papelão: “da piscina eu não cuido. Não sei tratar a água nem mesmo aspirar a podriqueira depositada no fundo”.
Assim passaram-se dias, meses, nem um ano ainda.
Tom Zé acabou afeiçoando-se ao casal. E apreciava cada vez mais a nova ocupação.
Só que. A cada vez que meu celular tilintava, e ouvia, do outro lado da linha a voz esganiçada do velho Tom, quase caia de costas, com a bunda até o chão.
Era assim que ele vociferava: “despenquei da moto. Acho que quebrei duas costelas de Adão. Sabe aquela égua danada? Ela me deu um coice na cara. Meu pivô voou longe. Minha dentadura novinha avoou como andorinhas em sua debandada para fugir do inverno em pleno verão. Rasguei aquela calça quase nova que o senhor me deu. E aquele relógio de pulso preto seu presente de Natal antecipado. Partiu-se em dois e meio. E agora seu Paulo? Não sei se vou ou se fico. Se choro ou se rio”.
A cada ligação dele penso em me mudar pra Pasárgada. Embora lá não seja amigo do rei quem sabe cairei nas desgraças da rainha?
O fato que o bom Tom não sabe quase ler ou escrever. Nunca vi um só rabisco dele num mourão de cerca ou numa porteira.
E eu, médico, e escritor não reconhecido além da serra da Bocaina e da ponte do Funil, autor de quase vinte livros. entre crônicas e romances, no dia de trasanteontem, quando nos encontramos à porta do Banco do Brasil, e a ele fiz presente um dos meus livros, de nome Mugido de Vaca e Cheiro de Curral. Ele olhou para aquele amontoado de letras e palavras com olhos de incredibilidade, e me disse, atabalhoadamente: “pra que serve isso”?
É. Vou-me embora pra Pasárgada. Quem sabe lá existem leitores para tantas crônicas minhas. E compradores para essa montanha de livros que tenho às minhas costas.